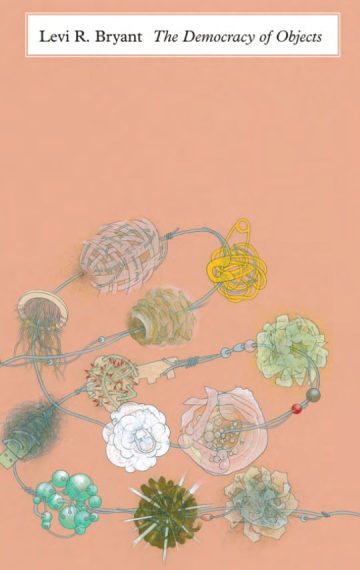
Neste livro ousado e provocador, Levi R. Bryant propõe uma reviravolta radical na filosofia contemporânea ao defender uma ontologia realista orientada para os objetos, isto é, uma visão em que os objetos possuem existência e agência próprias, independentemente de como são percebidos, representados ou utilizados pelos humanos. Em oposição ao longo predomínio do que ele chama de “correlacionismo” — a ideia de que só podemos falar do ser em relação ao humano —, Bryant propõe uma “democracia dos objetos”, onde todos os entes, humanos e não humanos, ocupam o mesmo patamar ontológico. A obra é uma resposta direta ao apagamento dos objetos pelo pensamento moderno, seja pela primazia do sujeito, da linguagem ou das estruturas sociais.
Ao longo de seus capítulos, Bryant articula conceitos centrais como “ser virtual”, “manifestação local” e “objeto retirado”, compondo o que ele chama de “onticologia” — um sistema em que objetos são definidos não por suas qualidades observáveis, mas por suas capacidades de gerar diferenças, interagir e resistir a traduções completas. A influência de pensadores como Bruno Latour, Graham Harman, Roy Bhaskar e Deleuze é mobilizada de maneira criativa, com destaque para a convivência entre tradições teóricas divergentes, unidas pelo método do “bricoleur”, aquele que constrói com o que tem à mão.
O projeto de Bryant ganha força ao resgatar o debate ontológico para além da epistemologia e do discurso humano, abrindo espaço para novas formas de pensar a realidade — seja ela física, social, técnica ou simbólica. A “democracia dos objetos” não significa que todos os objetos são iguais em importância ou função, mas que todos existem igualmente. Essa perspectiva radical convida o leitor a repensar ecologias, tecnologias, práticas políticas e científicas a partir de uma rede de relações onde nenhum ente detém o monopólio da centralidade.
Capítulo 1: Towards a Finally Subjectless Object
Neste capítulo de abertura, Bryant expõe a premissa central de sua filosofia: a necessidade de pensar os objetos para além de sua relação com o sujeito. A crítica dirige-se especialmente ao “correlacionismo”, identificado como a tendência da filosofia moderna e contemporânea de subordinar o ser ao conhecimento — ou seja, de considerar que só podemos conhecer (ou falar sobre) aquilo que se relaciona com a mente humana. O autor propõe um rompimento com essa lógica, resgatando a noção de objeto como algo que existe “por si”, independente de qualquer sujeito que o perceba, represente ou signifique.
A noção de “democracia dos objetos” é introduzida como uma tese ontológica e não política: trata-se da afirmação de que todos os objetos — sejam eles humanos, técnicos, naturais ou ficcionais — possuem um mesmo direito de existir, não sendo subordinados a uma hierarquia centrada no humano. Essa proposta se ancora em autores como Graham Harman, Bruno Latour e Isabelle Stengers, e busca deslocar o foco da filosofia do problema do “acesso” (epistemologia) para o problema do “ser” (ontologia).
Bryant analisa ainda os limites das abordagens anti-realistas e construtivistas, mostrando como, apesar de muitas vezes se apresentarem como críticas ao sujeito moderno, elas continuam operando dentro de um quadro epistemológico centrado no humano. O autor afirma a urgência de uma “ontologia realista”, na qual os objetos não são efeitos de discursos, relações ou estruturas, mas entidades dotadas de consistência própria.
Ponto central:
O capítulo introduz a tese fundamental da ontologia orientada ao objeto: os objetos devem ser pensados como existências autônomas, retiradas, que não se esgotam em suas manifestações perceptíveis nem em suas relações com o humano. Em outras palavras, propõe-se uma “ontologia plana” onde o humano é apenas mais um objeto entre outros.
Exemplos marcantes:
-
A crítica ao “esquema da representação” (sujeito/objecto) como base da filosofia moderna.
-
A distinção entre realismo epistemológico (relacionado à representação correta da realidade) e realismo ontológico (relacionado ao ser dos objetos em si).
-
A descrição gráfica de como a filosofia tradicional divide o mundo em dois domínios (cultura/natureza) e a proposta de coletivos híbridos que desafiam essa separação.
Conexão com a ExtraLibris:
A proposta de Levi Bryant encontra eco direto na metodologia ExtraLibris de Curadoria Figital, ao descentralizar a figura do leitor-sujeito e reconhecer os objetos — livros, dispositivos, dados, espaços e agentes — como co-autores da experiência de leitura. Essa ontologia plana estimula uma curadoria não hierárquica, onde todas as entidades participam da produção de sentido, conectando-se em redes dinâmicas que extrapolam o humano. A leitura torna-se, assim, uma prática compartilhada entre múltiplos objetos interativos.
Capítulo 2: The Paradox of Substance
Neste capítulo, Bryant aprofunda a discussão sobre o conceito de substância, reatualizando a tradição aristotélica à luz das questões da ontologia contemporânea. O problema central aqui é o paradoxo que emerge quando tentamos pensar a substância como algo que persiste independentemente de suas qualidades — algo que “é” sem necessariamente “aparecer”. Esse paradoxo, que Kenneth Burke também destaca, serve a Bryant como pista ontológica, não como impasse.
A substância, para Bryant, não é uma “coisa” definida por suas qualidades observáveis, mas um “motor de diferenças” (difference engine): uma entidade que pode produzir eventos (ou seja, mudanças no mundo), mesmo que essas manifestações não sejam constantes ou visíveis. Essa abordagem permite pensar os objetos para além do que se manifesta deles em qualquer contexto empírico. Assim, um objeto é mais do que suas aparições — ele possui uma realidade virtual própria (ou, nos termos do autor, virtual proper being), que nunca é inteiramente capturada por suas expressões locais (local manifestations).
Nesse sentido, Bryant introduz distinções fundamentais para sua ontologia:
-
Virtual proper being: o conjunto de potências, capacidades e estrutura interna de um objeto, que existe independentemente de como ele se manifesta.
-
Local manifestation: as qualidades e efeitos de um objeto em contextos específicos; são eventos contingentes que surgem da interação entre objetos.
-
Split-object: o reconhecimento de que há uma cisão entre a substância e suas manifestações; o objeto está sempre parcialmente retirado (withdrawn) das relações que estabelece.
Essa concepção coloca os objetos como entes autônomos, que podem agir, ser afetados, formar coletivos, ou permanecer latentes — mesmo sem nunca serem representados ou experienciados. Bryant argumenta que isso rompe com o realismo ingênuo (que iguala objeto a percepção) e com o empirismo (que só considera o que se apresenta aos sentidos).
Ponto central:
A substância deve ser pensada como algo distinto de suas qualidades e aparições. Objetos existem como centros de potência — independentes das relações que mantêm com outros objetos ou com sujeitos humanos — e manifestam-se localmente em contextos particulares, mas nunca se esgotam nessas manifestações.
Exemplos marcantes:
-
A crítica ao “realismo empirista” que iguala causalidade a conjunções constantes de eventos (Hume).
-
A reinterpretação da prática científica experimental como evidência de que os objetos têm potências reais que muitas vezes não se manifestam, a não ser sob condições específicas.
-
O uso do diagrama de Bhaskar (domínios do real, do atual e do empírico) para mostrar que os eventos empíricos são apenas uma pequena fração do que é ontologicamente real.
Conexão com a ExtraLibris:
Ao destacar que objetos possuem realidades que vão além de suas aparições e relações visíveis, Bryant reforça o que a metodologia ExtraLibris reconhece na curadoria figital: a potência latente dos acervos, espaços e suportes que compõem um ecossistema de leitura. A curadoria figital não organiza livros apenas com base em temas, autores ou gêneros (manifestações locais), mas reconhece que cada obra carrega uma substância ontológica própria — capaz de gerar efeitos diversos conforme seus encontros. A biblioteca deixa de ser um repositório de conteúdos e passa a ser um campo de forças, onde cada objeto retém sua virtualidade mesmo quando não lido, tocado ou referenciado.
Capítulo 3: Virtual Proper Being
Neste capítulo, Bryant aprofunda o conceito de virtualidade ontológica, introduzido anteriormente como uma das camadas fundamentais dos objetos. Aqui, o autor se apoia especialmente na filosofia de Gilles Deleuze para desenvolver o que chama de virtual proper being — a realidade interna de um objeto, composta por suas potências, capacidades e estrutura não manifestada. A proposta é clara: se os objetos são mais do que suas aparições, então há algo neles que permanece escondido, operando silenciosamente, mas que é absolutamente real.
Contudo, ao contrário de Deleuze, que frequentemente associa o virtual ao pré-individual e ao impessoal, Bryant argumenta que o virtual não é anterior ao objeto, mas sim próprio a ele. Ele rompe com a ideia de que a virtualidade precede a individuação: em vez disso, cada objeto já é, desde o início, portador de sua própria virtualidade. O virtual é singularizado — isto é, não há um plano virtual genérico, mas sim múltiplas virtualidades inscritas em cada objeto individual.
A estrutura do virtual é definida como:
-
Não composta por qualidades sensíveis;
-
Não diretamente acessível ou observável;
-
Responsável por regular quais qualidades podem ou não emergir em interações específicas;
-
Fonte de potência e autonomia ontológica.
Assim, as manifestações (eventos ou qualidades) são vistas como atuações contingentes de um conjunto virtual. Em outras palavras, o ser do objeto está em sua capacidade de fazer diferença, mesmo que essa diferença nunca venha a ser efetivada. É isso que permite pensar objetos como retirados, mas não passivos: eles atuam, resistem, transformam, mesmo na ausência de observação ou interação direta.
Ponto central:
O virtual próprio é a estrutura interna e invisível do objeto, da qual emergem suas manifestações. Trata-se de uma ontologia de potências, onde ser não é igual a aparecer, e onde cada objeto é singular não apenas em suas ações, mas naquilo que poderia fazer, mesmo que nunca faça.
Exemplos marcantes:
-
A distinção entre o virtual e o atual (Deleuze) reaplicada na estrutura dos objetos como diferença entre potencial e manifestação.
-
A crítica à tendência filosófica de tratar o virtual como “pré-individual” (exterior ao objeto).
-
A redefinição das qualidades como “eventos” gerados pelo objeto — ações contextuais e contingentes, e não traços fixos.
Conexão com a ExtraLibris:
Ao resgatar o potencial como dimensão real e constitutiva do objeto, Bryant fornece um alicerce ontológico direto para o pensamento curatorial figital. Cada obra em um acervo figital carrega mais do que seus metadados ou conteúdos visíveis: carrega uma virtualidade relacional que se atualiza de modo diverso conforme seus encontros — com outros livros, com tecnologias, com leitores. A curadoria ExtraLibris acolhe essa camada não visível, abrindo caminhos para que os objetos “falem entre si” e componham novos coletivos, provocando reorganizações de sentido a partir de suas potências ainda não realizadas. O acervo deixa de ser catálogo e se torna campo de virtualidades em trânsito.
Capítulo 4: The Interior of Objects
Neste capítulo, Bryant direciona sua investigação à estrutura interna dos objetos — uma dimensão que, até aqui, vinha sendo afirmada como “retirada” e “virtual”, mas agora é explorada em sua complexidade operativa. A pergunta-chave que guia o capítulo é: como objetos se relacionam se, por definição, são retirados e não acessam diretamente uns aos outros? A resposta está na elaboração de um modelo de interação mediada, em que as relações entre objetos são possíveis, mas sempre indiretas, seletivas e contextuais.
Para isso, o autor recorre à teoria dos sistemas autopoiéticos, especialmente à sociologia de Niklas Luhmann, para pensar os objetos como sistemas operacionais fechados que criam suas próprias distinções e formas de recepção. Em vez de interação direta, Bryant propõe que objetos transformam perturbações externas em eventos internos — um processo de tradução que envolve filtragem, interpretação e reorganização segundo a estrutura própria do objeto.
Esse processo se dá por meio de:
-
Perturbação: quando um objeto é afetado por outro, não recebe diretamente sua essência, mas um estímulo ou sinal.
-
Informação: a perturbação torna-se “informação” apenas quando o objeto afetado a seleciona e traduz segundo sua própria estrutura interna.
-
Estado sistêmico: o objeto altera seu estado interno (local manifestation), mas essa alteração depende mais dele mesmo do que do objeto perturbador.
Nesse modelo, cada objeto produz sua própria relação com o mundo. Não há comunicação direta nem transparência entre seres — apenas um jogo contínuo de traduções, ruídos e eventos contextuais. A “interioridade” do objeto é justamente essa capacidade de selecionar, interpretar e responder sem se esgotar.
Ponto central:
Os objetos são sistemas operacionais fechados que se relacionam com o mundo não por absorção direta, mas por traduções internas de perturbações. Essa clausura operacional garante tanto a autonomia quanto a sensibilidade dos objetos, permitindo que se envolvam em redes sem perder sua consistência.
Exemplos marcantes:
-
A analogia com Luhmann: sistemas sociais que não recebem diretamente “informações do mundo”, mas constroem suas próprias referências com base em perturbações.
-
A distinção entre perturbação (o que vem de fora) e informação (o que é traduzido e processado dentro).
-
A definição dos objetos como sistemas seletivos, que interpretam o mundo segundo suas próprias lógicas internas, sem jamais acessarem diretamente outros objetos.
Conexão com a ExtraLibris:
A teoria da interioridade dos objetos oferece um alicerce essencial à prática da curadoria figital. Em ambientes figitais, onde obras, suportes, tecnologias e leitores interagem, não há transmissões diretas de sentido — há, sim, redes de ressonância e perturbações entre sistemas que se reorganizam mutuamente. O acervo figital é composto por objetos que traduzem uns aos outros, que se afetam sem se absorver, e cujas “leituras” se multiplicam conforme seus encontros. Cada livro em uma estante figital age como um sistema de recepção e resposta, capaz de perturbar e ser perturbado, formando constelações vivas de sentido em constante reconfiguração.
Capítulo 5: Regimes of Attraction, Parts, and Structure
Neste capítulo, Levi R. Bryant investiga como os objetos, mesmo sendo ontologicamente retirados e operando com interioridades próprias, interagem, formam coletivos e sofrem transformações estruturais ao longo do tempo. Para isso, ele introduz três conceitos-chave: regimes de atração, mereologia (a teoria das partes e do todo), e estrutura temporal. É o capítulo em que a ontologia ganha dinamicidade, espacialidade e historicidade.
1. Regimes de Atração
Bryant retoma sua concepção de objetos como motores de diferença para explicar como, em certos contextos, certas manifestações tendem a se repetir. Esses padrões repetitivos são chamados de regimes de atração. Eles não anulam a virtualidade dos objetos, mas organizam e canalizam certas manifestações possíveis, estabilizando comportamentos por meio de redes de relações, dispositivos ou ecologias.
Um regime de atração não é uma essência, mas uma configuração estável de relações e pressões contextuais. É o que torna certos objetos “previsíveis” ou “habitualizados”, sem com isso esgotar sua capacidade de gerar outras manifestações.
2. Partes e Totalidades (Mereologia)
A parte central do capítulo desenvolve uma teoria não-reducionista das relações mereológicas. Bryant propõe que:
-
Todo objeto é composto de partes.
-
As partes têm autonomia e virtualidade próprias.
-
O todo (objeto maior) não se reduz às suas partes, mas tampouco é uma entidade inteiramente independente delas.
Isso significa que:
-
Um objeto maior (por exemplo, uma instituição) pode ter propriedades emergentes que não estavam nas partes isoladas.
-
Mas as partes também conservam sua potência própria, podendo resistir, interferir ou mesmo destruir o todo.
Com isso, Bryant contesta tanto o holismo extremo quanto o individualismo atomista. A ontologia deve pensar relações escalonadas e tensivas entre partes e totalidades.
3. Tempo, Entropia e Transformação
Por fim, o capítulo aborda a dimensão temporal dos objetos. Todos os objetos estão sujeitos à entropia — à degradação, ao colapso, à dispersão de suas estruturas. Contudo, objetos duram porque:
-
São capazes de se reorganizar diante de perturbações.
-
Criam ritmos internos e estratégias de manutenção, como feedbacks regulatórios e adaptações.
Esse aspecto conecta os objetos à historicidade e ao campo das mutações: eles não são apenas estruturas ontológicas fixas, mas processos em luta contra o desaparecimento.
Ponto central:
Objetos não apenas existem como unidades retiradas, mas também participam de dinâmicas complexas de formação de regimes estáveis, interações entre partes e totalidades, e processos temporais que envolvem persistência, transformação e entropia.
Exemplos marcantes:
-
A ideia de um coral como um objeto coletivo composto por organismos autônomos, cujas interações geram padrões de comportamento complexos e relativamente estáveis.
-
A análise de como tecnologias, instituições e ecossistemas funcionam como regimes de atração que moldam, mas não determinam, o comportamento de seus objetos constituintes.
-
A descrição do colapso estrutural de objetos como resultado da falência de seus mecanismos de auto-manutenção.
Conexão com a ExtraLibris:
O conceito de regimes de atração ressoa diretamente com os princípios curatoriais da ExtraLibris: uma estante figital é mais do que a soma de suas obras — é um ecossistema de relações que favorece certas conexões, leituras e experiências. No entanto, essas configurações são mutáveis, abertas à reprogramação e sensíveis a novas entradas (partes). A curadoria figital, assim como os objetos descritos por Bryant, opera entre a estabilidade e o colapso, entre o todo e as partes, entre o presente e o potencial. Ao reconhecer isso, a ExtraLibris cria ambientes vivos, onde o sentido circula e se transforma sem jamais ser encerrado.
Capítulo 6: The Four Theses of Flat Ontology
Neste capítulo conclusivo, Bryant apresenta de forma sistematizada os fundamentos da sua proposta ontológica, que ele denomina de ontologia plana (flat ontology). O termo não se refere a uma simplificação da realidade, mas à recusa de hierarquias ontológicas que privilegiam certos tipos de entes (como humanos, ideias ou estruturas) em detrimento de outros. Em uma ontologia plana, todos os objetos — humanos, naturais, técnicos, ficcionais, sociais — existem igualmente, embora com diferentes potências e modos de ação.
Bryant organiza sua defesa em quatro teses fundamentais:
Tese 1: Todos os objetos são retirados
Nenhum objeto está totalmente presente ou acessível. Essa retirada (withdrawal) não é apenas epistêmica (como nas tradições do conhecimento), mas ontológica: objetos não se revelam completamente nem mesmo a outros objetos. Toda relação é uma tradução parcial, mediada por filtros e seleções. Isso assegura a autonomia dos entes e a possibilidade de diferença.
Tese 2: O mundo não existe
Aqui, Bryant faz uma afirmação provocativa: o mundo, entendido como uma totalidade unificada, não existe. Não há um grande objeto que reúne todos os objetos; o que existem são múltiplos objetos coexistindo, interagindo, colidindo ou ignorando-se. Essa tese desfaz a ideia de que a realidade forma um sistema coeso — substituindo-a por uma multiplicidade de planos locais, conexões parciais e conjuntos disjuntos.
Tese 3: Humanos não ocupam um lugar privilegiado no ser
Rejeitando o antropocentrismo filosófico, Bryant argumenta que o humano é apenas mais um tipo de objeto entre outros. Essa descentralização permite incluir uma diversidade de atores na análise ontológica — máquinas, micróbios, ficções, algoritmos, minerais. A diferença entre humanos e outros entes é de grau, não de natureza.
Tese 4: Todos os objetos são ontologicamente iguais
Esta tese retoma e explicita a noção de ontologia plana: não há uma hierarquia do ser. Bryant recusa a separação entre entes “mais reais” (como partículas ou estruturas) e entes “menos reais” (como obras de arte ou instituições). Todos existem com o mesmo grau de realidade, ainda que com capacidades e efeitos diversos. Isso exige um novo modo de pensar as relações — não mais em termos de causas lineares, mas de coletivos heterogêneos e entrelaçados.
Ponto central:
A ontologia de Bryant se fundamenta na horizontalidade do ser: não há fundamento último, sujeito soberano, nem estrutura totalizante. Cada objeto tem existência própria, potência de atuação, e participa de redes contingentes onde sua realidade se expressa de modos variados e parciais.
Exemplos marcantes:
-
A releitura dos gráficos de sexuação de Lacan como modos de discurso ontológico: o discurso da retirada e o discurso da presença total.
-
A crítica à ideia de um “mundo” ou “todo” como entidade superior que ordena os objetos.
-
A inclusão de entidades como ficções, algoritmos, instituições e memes como objetos plenamente reais.
Conexão com a ExtraLibris:
A filosofia de uma ontologia plana dialoga diretamente com os princípios curatoriais da ExtraLibris, que se baseia em uma ecologia figital sem centros fixos. Ao reconhecer todos os objetos como igualmente reais, a curadoria figital se afasta da ideia de que apenas textos, autores ou usuários humanos são produtores de sentido. Plataformas, dispositivos, algoritmos, layouts e metadados passam a ser considerados co-autores da experiência de leitura. Em vez de um “mundo literário” unificado, temos uma constelação de objetos em copresença, cada um operando segundo suas potências e traduções. A estante figital se torna, assim, um campo de atuação plana, onde qualquer elemento pode acionar redes imprevisíveis de significação.