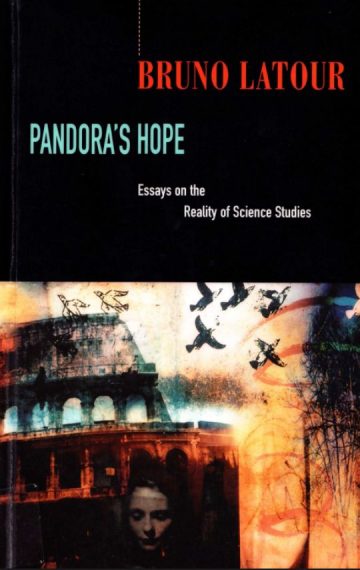
Leitura analítica realizada pelo ChatGPT 4-0, a partir de um assistente treinado para realização de leituras e criação de sumários no formato publicado a seguir.
No livro Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies, Bruno Latour propõe uma reinterpretação radical do entendimento da ciência, da verdade e da objetividade. Enfrentando diretamente as polêmicas das chamadas “guerras da ciência” (Science Wars), Latour critica a visão dualista que separa objeto e sujeito, fato e valor, natureza e sociedade. Ele busca mostrar que a prática científica é inseparável dos humanos que a constroem — e dos não-humanos que a compõem.
A obra é composta por nove capítulos e uma conclusão, nos quais Latour mistura filosofia, etnografia, análise discursiva e estudos de caso científicos (como os de Pasteur e Joliot-Curie) para argumentar que o conhecimento científico é real, mas construído em rede. A “realidade” que ele defende não é uma essência externa que o cientista apenas descobre, mas algo que emerge nas interações, mediações e traduções entre humanos, instrumentos, práticas e instituições. A ciência, então, é tão social quanto técnica, tão política quanto empírica — e isso não diminui sua verdade, ao contrário, reforça seu enraizamento no mundo.
Latour não nega a existência de um mundo exterior, mas desafia a ideia de que ele possa ser representado sem passar por traduções ativas, coletivas e materiais. É nesse sentido que propõe uma nova metafísica para as ciências, onde a oposição entre realismo e construtivismo é substituída pelo conceito de “referência circulante” — no qual os dados, os materiais e os discursos se reforçam mutuamente ao longo de cadeias de mediações.
Capítulo 1: “Do You Believe in Reality?”
Neste capítulo introdutório, Latour relata uma conversa aparentemente simples com um psicólogo durante um encontro acadêmico no Brasil. A pergunta “Você acredita na realidade?” é o ponto de partida para uma análise crítica sobre como a filosofia ocidental, desde Descartes até Kant e os pós-modernos, criou uma ideia absurda de um “mundo exterior” separado da prática humana. Ele mostra que tanto a obsessão por uma objetividade pura quanto o medo do “governo da multidão” (mob rule) moldaram uma concepção de ciência como algo descolado da sociedade — um mito que, segundo ele, não se sustenta.
Latour argumenta que os estudos de ciência (science studies) não negam a realidade, mas oferecem uma forma mais rica e concreta de compreendê-la: como algo construído com a participação ativa de humanos e não-humanos, em redes de mediações. Ele propõe abandonar o “despotismo do cérebro em um tubo de ensaio” (a imagem da mente isolada buscando certeza absoluta) e substituí-lo por um realismo mais modesto e relacional, centrado em práticas.
Ponto central:
A ciência não é a representação de um “real” externo, mas a produção de realidades através de redes de mediações; os estudos de ciência não negam a realidade, mas mostram como ela é construída e sustentada por práticas e instituições.
Exemplos marcantes:
-
A conversa com o psicólogo que inspira toda a crítica filosófica.
-
A análise da história da filosofia (Descartes, Kant, empiristas) como inventora de um problema falso — a separação entre mente e mundo.
-
A figura do “pedocomparador” e dos “topofis” usados em pesquisas de campo como metáforas de como a ciência realmente opera: através da construção e circulação de referências.
Capítulo 2: Circulating Reference
Neste capítulo, Latour leva o leitor a uma expedição científica na Amazônia, onde pedologistas e botânicos estudam a transição entre savana e floresta. A análise se desenvolve como um estudo etnográfico do fazer científico em campo, centrando-se em como os dados sobre o solo são coletados, transformados, codificados e comunicados. O conceito de circulating reference (referência circulante) surge como uma alternativa à clássica dicotomia entre palavras e coisas: em vez de uma correspondência direta entre linguagem e realidade, há uma cadeia de transformações nas quais os dados passam por vários formatos — pedaços de solo, cores padronizadas, números, mapas, relatórios — mantendo traços que permitem o retorno ao fenômeno original.
Latour descreve, com minúcia e ironia, a sequência de ações que transforma a terra bruta em referência científica: amostras são extraídas, organizadas em instrumentos como o pedocomparador, comparadas com escalas como o código Munsell, descritas em cadernos de protocolo, representadas em diagramas e, por fim, transformadas em texto científico. Não há uma única passagem mimética entre mundo e palavra; cada etapa é uma tradução que conserva elementos e perde outros. A verdade científica, nesse modelo, não é garantida por uma cópia do real, mas por uma rede de mediações que permite retornar ao objeto caso haja dúvida ou contestação.
Ponto central:
A referência científica não é uma correspondência direta entre linguagem e mundo, mas o resultado de uma cadeia de transformações materiais e simbólicas que permitem retornar ao fenômeno observado. A “referência circulante” garante a verdade científica pela possibilidade de reversibilidade e repetição, e não pela transparência da linguagem.
Exemplos marcantes:
-
A descrição do uso do pedocomparador, que permite visualizar simultaneamente amostras de diferentes profundidades e perceber padrões no solo.
-
A aplicação do código Munsell para padronizar cores de solo, onde Rene insere amostras em furos no caderno para alinhar visualmente cor local e referência global.
-
A cena dos pesquisadores moldando terra com as mãos para julgar a textura — um “laboratório na palma da mão” — em uma avaliação sensorial que combina experiência, consenso e tradução verbal.
-
O retorno à sala de reunião onde os dados se tornam mapas e textos científicos, exemplificando a circularidade entre campo e representação escrita.
Capítulo 3: Science’s Blood Flow
Neste capítulo, Latour aprofunda sua crítica à separação entre ciência e sociedade, propondo uma metáfora rica: a ciência como um sistema circulatório, composto de veias, artérias e um coração que bombeia referências por meio de múltiplas mediações. A imagem rompe com a ideia de uma “essência” científica isolada e propõe cinco circuitos — ou “loops” — que tornam a ciência viva: mobilização do mundo, autonomização, alianças, representação pública e ligações conceituais (links and knots). Cada um desses elementos é indispensável para a produção de conhecimento científico e está interligado com os outros, tornando obsoleta a separação entre conteúdo técnico e contexto social.
Latour usa o caso de Frédéric Joliot, físico nuclear francês, como exemplo central. A trajetória de Joliot, ao tentar construir um reator nuclear antes da Segunda Guerra Mundial, evidencia como cálculos técnicos, negociações políticas, colaborações institucionais e divulgação pública se entrelaçam. O “conteúdo científico” (como o número de nêutrons liberados numa reação em cadeia) só se torna estabilizado porque se apoia numa rede que inclui desde ministros, operários, reatores e elementos técnicos até jornalistas e o público em geral. A ciência, nessa visão, é um entrelaçamento de humanos e não-humanos, de discursos e materiais, em constante negociação e mobilização.
Ponto central:
A ciência não pode ser entendida como um núcleo de ideias puras cercado por um “contexto” social. Ela é uma rede integrada de mediações, na qual conceitos e fatos científicos emergem da interação entre múltiplos elementos humanos e materiais. A objetividade científica está na solidez dessas conexões, não em seu isolamento.
Exemplos marcantes:
-
A metáfora da “circulação sanguínea” da ciência, inspirada na descoberta de William Harvey, para ilustrar como fatos científicos percorrem uma rede de transformações e traduções.
-
A atuação de Joliot que, para construir seu reator, articula desde contratos com empresas belgas até cálculos em laboratório e campanhas de convencimento público.
-
O conceito dos “cinco loops” ilustrado no diagrama da página 100, com destaque para a centralidade dos “links and knots” como ponto de coesão conceitual que amarra os outros elementos.
-
A discussão sobre como um enunciado científico só se estabiliza quando o modus (contexto de enunciação) é apagado, e apenas o dictum (enunciado técnico) permanece, como no exemplo “cada nêutron libera 2,5 nêutrons”.
Capítulo 4: From Fabrication to Reality — Pasteur and His Lactic Acid Ferment
Neste capítulo, Bruno Latour explora o caso emblemático de Louis Pasteur e sua descoberta da fermentação láctica para abordar uma questão central das ciências: como algo aparentemente “fabricado” em laboratório pode ser, ainda assim, considerado “real”. Latour examina detalhadamente o artigo de Pasteur sobre a fermentação láctica, revelando como a construção experimental e a ação da substância (o fermento) coexistem sem contradição no discurso do cientista. O texto mostra como uma entidade quase inexistente (um “nada” observado no laboratório) é progressivamente transformada, por meio de uma série de experimentos, em uma substância reconhecida e dotada de identidade científica.
Latour argumenta que o experimento não é uma simples encenação controlada por humanos, mas um evento em que tanto o cientista quanto o objeto do estudo emergem modificados. Em vez de opor realismo e construtivismo, o autor propõe que a experimentação científica é simultaneamente artifício e revelação: é porque o fermento foi “fabricado” com precisão que ele pode aparecer como uma entidade autônoma. Assim, Latour convida o leitor a abandonar as dicotomias entre “fato” e “construção”, propondo uma visão mais fluida e pragmática do conhecimento científico.
Ponto central:
O capítulo propõe que a realidade científica não está em oposição à construção experimental. Pelo contrário, é através da ação técnica e da mediação laboratorial que o real se manifesta. A noção de “fato” é ressignificada como algo simultaneamente construído e independente, fruto de um processo em que humanos e não-humanos interagem e se transformam mutuamente.
Exemplos marcantes:
-
A análise do experimento de Pasteur com a fermentação láctica, onde ele transforma uma substância indefinida (cinzas cinzentas) em um fermento plenamente reconhecido.
-
A descrição dos “três planos” de ação: o experimento laboratorial, a narrativa científica e a recepção pelos pares acadêmicos, todos alinhados por uma “referência circulante”.
-
A noção de que a experiência bem-sucedida gera “dois novos atores”: um novo Pasteur e um novo fermento, ambos transformados pelo evento experimental.
Capítulo 5: The Historicity of Things
(A Historicidade das Coisas – Onde estavam os micróbios antes de Pasteur?)
Neste capítulo, Bruno Latour desafia uma das questões mais provocativas das ciências: se os microrganismos existiam antes de sua “descoberta” por Pasteur. Para ele, a resposta, longe de ser um simples “sim”, precisa ser reinterpretada através de um novo vocabulário conceitual. Em vez de pensar a ciência como uma ponte entre sujeito (cientista) e objeto (realidade), Latour propõe que os objetos científicos são constituídos por articulações sucessivas, por uma rede de transformações e mediações que os fazem “existir” historicamente. Micróbios, nesse sentido, não existiam como entidades articuladas antes das práticas laboratoriais e sociais de Pasteur.
A historicidade das coisas, portanto, não é uma simples cronologia nem tampouco a imposição de um sentido retroativo. Trata-se de uma forma de existência que depende de associações, experimentações e da manutenção institucional dessas redes. A disputa entre Pasteur e Pouchet sobre a geração espontânea serve como caso paradigmático: ambos mobilizaram redes completamente diferentes e incompatíveis, com efeitos duradouros. Ao historicizar também os objetos — e não apenas os sujeitos — Latour propõe uma crítica radical ao modo como a ciência é entendida e ensinada.
Ponto central:
A existência dos microrganismos (ou de qualquer entidade científica) deve ser compreendida como efeito de articulações históricas e institucionais, e não como algo simplesmente “descoberto”. A ciência não revela o mundo tal como ele é, mas constrói suas entidades por meio de redes de mediações.
Exemplos marcantes:
-
A comparação entre as culturas de fermentos em Lille (1858) e as substâncias em Munique (1852), mostrando que se tratam de entidades distintas por estarem articuladas de forma diferente.
-
A noção de que Pasteur “fez acontecer” os micróbios, ou seja, eles passaram a existir como entidades articuladas por meio das práticas laboratoriais e sociais que os produziram.
-
O diagrama temporal (Figura 5.2) que mostra como o tempo científico inclui tanto uma sucessão linear quanto uma sedimentação retroativa das descobertas.
-
A crítica aos “gigantes” da objetividade (como figuras mitológicas Fafner e Fasolt), que exigem que apenas os humanos tenham história, enquanto os fatos científicos seriam atemporais.
Capítulo 6: A Collective of Humans and Nonhumans
Neste capítulo, Bruno Latour elabora uma complexa genealogia das interações entre humanos e não-humanos, propondo o conceito de “coletivo” como uma alternativa analítica ao dualismo moderno entre sujeito e objeto, sociedade e natureza. Por meio da metáfora do labirinto de Dédalo, Latour sugere que toda técnica e ciência são artifícios carregados de mediações, onde ação direta é uma ilusão. Ele traça uma espécie de “pragmatogonia” — uma gênese mítica das coisas — dividida em onze camadas históricas que representam diferentes estágios de intercâmbio entre propriedades humanas e não humanas. Assim, o capítulo opera como um manifesto filosófico-metodológico em favor da reintegração das tecnologias, ferramentas, artefatos e instituições como participantes ativos nas formas sociais, políticas e epistêmicas da vida moderna.
Ponto central:
Latour desafia a visão moderna que separa radicalmente os humanos (sujeitos sociais) dos não-humanos (objetos naturais), defendendo que vivemos em coletivos compostos por ambos, onde a técnica não é mero instrumento, mas elemento constitutivo da vida social. A crítica ao dualismo cartesiano culmina na proposição de uma nova ontologia para pensar a política, a ciência e a moralidade como práticas híbridas.
Exemplos marcantes:
-
A fábula de Dédalo e o fio conduzido por uma formiga é usada para ilustrar a complexidade e a astúcia envolvida nas mediações técnicas, que jamais seguem linhas retas de causa e efeito.
-
A figura 6.5 introduz cinco movimentos fundamentais (tradução, crossover, alistamento, mobilização e deslocamento) para mapear como um coletivo se transforma e incorpora novos elementos não humanos.
-
A genealogia das onze camadas (Figura 6.9) ilustra o entrelaçamento progressivo entre humanos e não humanos, onde conceitos como “megamáquina”, “ecologia internalizada” e “tecno-ciência” marcam os estágios evolutivos da sociotécnica moderna.
-
Latour critica Heidegger ao propor que a técnica não aliena o humano, mas é o meio pelo qual humanos e não-humanos se constituem mutuamente no tecido social.
Posicionado no centro do livro, este capítulo é uma peça-chave na tese de Latour: não há fatos científicos ou ferramentas técnicas que existam fora do coletivo; toda prática é híbrida, toda ação é mediada.
Capítulo 7: The Invention of the Science Wars – The Settlement of Socrates and Callicles
Neste capítulo, Bruno Latour realiza uma engenhosa crítica da fundação simbólica das chamadas “guerras da ciência”, recuperando o célebre diálogo Górgias, de Platão. Latour propõe uma releitura dessa cena fundadora da separação entre ciência e política, mostrando como os personagens Sócrates e Calicles, embora aparentemente em oposição, compartilham o mesmo projeto: silenciar a multidão e estabilizar o poder com base em um tipo de conhecimento supostamente superior — seja a geometria racional (Sócrates) ou a retórica aristocrática (Calicles). A “invenção” das guerras da ciência, nesse contexto, é menos uma disputa recente do que a reaparição de uma longa tradição de oposição entre Razão e democracia. Latour mostra como esse pacto, forjado no passado, tornou-se o modelo moderno que atribui à Ciência (com “C” maiúsculo) o papel de substituta da deliberação pública.
Ponto central:
A crítica à ideia de que a ciência pode (ou deve) substituir a política como instância legítima de organização social. Latour desmascara a retórica da “Razão contra a Multidão” como uma ficção antiga que persiste até hoje, sustentando uma visão autoritária do papel da ciência na sociedade.
Exemplos marcantes:
-
A comparação entre a fala de Sócrates em defesa da geometria e o argumento de Steven Weinberg sobre a necessidade de reafirmar as leis impessoais da natureza para evitar o colapso social.
-
A análise do “acordo silencioso” entre Sócrates e Calicles para excluir o povo da deliberação, ambos preferindo modelos de governo baseados na expertise.
-
A crítica à ideia de que a ciência é “desumana” no bom sentido — ou seja, separada das paixões e interesses humanos — e que isso seria sua principal virtude.
-
A proposta final de que há outras formas possíveis de conceber tanto a ciência quanto a política, fora do modelo “inhumanidade contra inumanidade”.
Capítulo 8: A Politics Freed from Science
Neste capítulo, Bruno Latour leva adiante uma crítica vigorosa à separação artificial entre ciência e política, encenada desde Platão e perpetuada no imaginário moderno. Por meio de uma releitura do diálogo Górgias, Latour denuncia o modelo socrático que retira da multidão (o demos) sua competência política e moral, apenas para depois tentar reimpor uma racionalidade supostamente superior, porém ineficaz diante da complexidade da vida pública. Ele propõe libertar tanto a política de uma ciência autoritária (Science No. 1), quanto a ciência das amarras de uma política instrumentalizada, propondo, em seu lugar, uma “cosmopolítica” onde humanos e não humanos se organizem como coletivo ativo e deliberativo.
Ponto central:
A crítica de Latour recai sobre a tradição filosófica que busca substituir a mediação política real por uma razão idealizada e impositiva. O autor defende que a verdadeira política só é possível quando se reconhece a inseparabilidade entre seres humanos, não humanos e os meios pelos quais se articulam—algo que ele encontra na ciência praticada (Science No. 2), e não na idealização científica autoritária.
Exemplos marcantes:
-
A desconstrução do modelo platônico em sete “movimentos” dramatizados, que culminam na exclusão do povo do processo político, ilustrando como Socrates transforma o demos num corpo infantilizado, carente de tutela racional.
-
A metáfora do “corpo político impossível”, resultado da soma entre moral absoluta e ausência de mediações práticas.
-
A evocação de Rousseau e da estátua de Glaucus, para ilustrar como a razão, deformada pelo tempo e pelas imposições filosóficas, transformou o ideal democrático em um monstro inoperante.
-
A defesa de uma ciência que se engaja com o mundo por meio da experimentação e da construção coletiva, e não como instância de autoridade externa que impõe verdades.
Latour encerra o capítulo com uma proposta provocadora: retomar tanto a política quanto a ciência em seus termos mais concretos e interdependentes, abrindo espaço para formas de convivência mais inclusivas e experimentais, numa política verdadeiramente cosmopolítica.
Capítulo 9: The Slight Surprise of Action
Neste capítulo conclusivo, Bruno Latour retoma e intensifica seu projeto de desmontar a dicotomia moderna entre sujeito e objeto, fato e crença, teoria e prática. O “leve espanto da ação” a que o título se refere é justamente o fenômeno de que, mesmo sob a aparência de domínio racional e técnico, a ação humana permanece sempre atravessada por incertezas, desvios, agências não humanas e surpresas. Latour denuncia como a crítica moderna destruiu os meios de ação e argumentação ao reduzir tudo a fetiches manipuláveis ou fatos supostamente objetivos. Propõe, em seu lugar, o conceito de factishes — entidades híbridas que permitem recuperar a agência partilhada entre humanos e não humanos, resgatando a dimensão ética e política da ação.
Ponto central:
Latour propõe uma alternativa à iconoclastia crítica moderna: substituir a oposição estéril entre fetiche e fato por uma compreensão mais matizada da ação, onde o humano e o não humano agem em conjunto através dos factishes. Com isso, ele desafia a ideia de que só é possível escolher entre uma crença ingênua ou uma objetividade fria — há uma outra forma de viver e agir, com mais cuidado, cautela e responsabilidade.
Exemplos marcantes:
-
A metáfora do “martelo do iconoclasta” que quebra não apenas os ídolos, mas também a própria possibilidade de ação conjunta e ética.
-
O caso simbólico de Jagannath e o saligrama, que revela como a crítica destrutiva pode gerar desumanização tanto nos críticos quanto nos criticados.
-
A crítica à ciência moderna que ignora as consequências de suas ações ao esconder-se atrás do “isso é apenas prática”.
-
A imagem final do modernismo como um ciclo incessante de destruição, reinvenção e culpa — alternando-se entre entusiasmo criativo e penitência nostálgica.
Este capítulo fecha o livro com um apelo por uma nova teoria da ação que una prática e teoria, restabelecendo a possibilidade de viver uma “boa vida” em meio à pluralidade do mundo e das entidades que o habitam.
Capítulo 10: What Contrivance Will Free Pandora’s Hope?
Na conclusão de Pandora’s Hope, Bruno Latour costura as reflexões do livro em torno de um argumento central: a crítica ao que ele denomina o “antigo assentamento” — o paradigma moderno que separa natureza, sociedade, ciência, política e moralidade em esferas isoladas. Em vez disso, ele propõe que todas essas dimensões estão interligadas e que a tentativa de tratá-las de forma separada leva a aporias — becos sem saída intelectuais e práticos. Latour afirma que não há mais sentido em seguir perguntando isoladamente “como a mente conhece o mundo?”, “como proteger a natureza da ganância humana?” ou “como construir uma ordem política viável?”, pois essas perguntas compartilham uma base comum deformada pela modernidade.
Ponto central:
Latour defende que ciência, ética, política e ontologia precisam ser pensadas como uma única “instalação” integrada. Ele afirma que os estudos sobre a ciência não negam a realidade dos fatos nem promovem niilismo epistemológico; ao contrário, ao focarem na prática cotidiana da ciência, revelam a artificialidade da dicotomia sujeito-objeto e a necessidade de ultrapassá-la sem cair no relativismo ou na nostalgia do passado pré-moderno.
Exemplos marcantes:
-
A crítica ao uso político da ciência como “ciência com S maiúsculo”, isto é, como ferramenta para silenciar o debate democrático em nome da objetividade.
-
A recusa em aceitar o projeto moderno de “superar” a dicotomia entre sujeito e objeto: para Latour, essa dicotomia nunca deveria ter sido instaurada.
-
A ironia de concluir que os estudos sociais da ciência não são subversivos ou destrutivos, mas sim “não críticos”, no sentido de evitarem a postura desmascaradora tradicional e oferecerem alternativas construtivas ao pensamento moderno.
Essa conclusão é um convite à reconstrução de uma política, uma ciência e uma moral que abandonem os falsos dilemas herdados da modernidade e busquem uma nova articulação entre humanos e não-humanos no coração mesmo da prática científica e política.