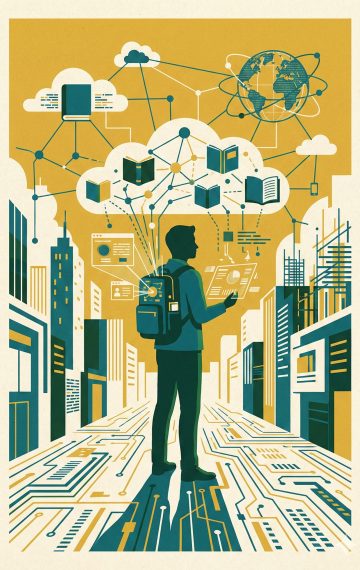
Publicado no linkedin em abril de 2025.
A minha resposta sempre esteve relacionada a repensar o sentido clássico das bibliotecas a partir da mediação do acesso aos artefatos do intelecto desenvolvendo tecnologias do mundo das ideias (simbolismo) não da informação (formalismo).
Na década de 80 rolou uma movimentação política, traçando um paralelo com o que Trump tem realizado atualmente, em que o managerialismo formal (sistemas de automação e chamar pessoas de usuários) fez com que o mundo da informação vencesse o mundo das ideias.
Faz uma semana estava assistindo o video de um bibliotecário mostrando as fichas de catálogo nas gavetas, mas não eram fichas técnicas do padrão AACR2 (formal) e sim fichas de recomendação de livros (simbolico) criadas nas bibliotecas antes da automação.
Quando iniciei a graduação em biblioteconomia, na apresentação do curso no auditório para os estudantes, peguei um disquete e mostrei no telão um site que havia montado em 2001. Era uma espécie de serviço de referência especializado em divulgação da ciência (uma bibliografia).
No entanto, descobri que entrei no curso meio desenganado, acreditando que o curso ensinaria catalogação, classificação, indexação, e tecnologias para mediação de artefatos do intelecto (como os livros) pela dimensão simbólica. Isso, porque desde criança sempre fui fascinado por catálogos de recomendação de filmes (aqueles guias de cinema em que vinha um resumo crítico da obras e estrelas de avaliação vendidos no jornaleiro…).
Nestes primeiros 15 anos entre a graduação, mestrado e virar professor univesitário (2002-2017) a minha atuação sempre esteve envolvida com o mundo da colaboração digital e a defesa da atuação profissional desenvolvendo ‘serviços de informação especializados’.
No entanto, em 2017, a ficha caiu sobre a necessidade do retorno ao ontológico – no sentido da existência das coisas no mundo físico, não no fascismo dos vocabulários controlados. Até porque uma boa parte da minha crítica em relação ao digital é que periódicos acadêmicos apenas portabilizaram para interfaces digitais a estrutura formal de como as pessoas utilizavam os recursos e faziam pesquisas no papel e em terminais de consulta.
Ou seja, perdemos o bonde do digital, vamos voltar ao presencial e ressignificar a existência das bibliotecas presenciais. Por isso surgiu a ideia de pensar o digital não como uma entidade independente, mas, como transposição da memória social local e sua relação com os itens, coleções e lugares, para interfaces – no entanto, mantendo características da era de ouro da internet: aquela dos hiperlinks, conteúdos textuais longos, navegação por páginas, enfim, sem toda a parte “cérebro podre” que emergiu depois da década de 2010…
Por isso a ExtraLibris, que começou como um guia bibliográfico em 2002, virou um periódico em 2005, plataforma de ead em 2010, transformou-se a partir de 2017 em um conceito de exposições presenciais conectadas: Curadoria Figital.
A imagem a seguir é de um estudo sobre a organização de uma bibliografia figital utilizando a plataforma ExtraLibris acessível em https://biografias.figiteca.com
